“Estranho não é ser diferente, mas igual a todo mundo.”
Mishael Mendes [1 Coríntios 1.27]
Estado de normalidade
Como apontou o filósofo da ciência Ian Hacking, costumamos usar a palavra normal “pra dizer como as coisas são e deveriam ser”. Mas o que é ser normal? Esse conceito realmente existe? Porque o viés, ou crença, da anormalidade ser o que está em desarmonia com um padrão pode levar a erros, preconceitos e até assustar – problema esse enraizado em nossa mente. Pra poupar gastos desnecessários durante o dia, o cérebro opera num modo de baixa energia que automatiza decisões repetitivas, as transformando em hábitos – como aborda Daniel Kahneman, em “Rápido e devagar – Duas formas de pensar” (“Thinking, Fast and Slow“, de 2011). Dessa forma, conceitos não definidos e valores distorcidos, ao qual somos expostos, acabam absorvidos e nos influenciam sem a gente se dar conta, por isso ao vermos o diferente pode surgir um incômodo ao qual chamamos estranheza.
Normal vem do latim normalis, “conforme a norma”, palavra que nomeava o esquadro, uma ferramenta usada por carpinteiros pra marcar ângulos retos. Devido a sua função em manter o alinhamento sem desvios, passou a significar “padrão, regra, lei, modelo moral ou preceito ético a ser seguido”. Seu primeiro uso com o sentido de normalidade ocorreu em meados da década de 1800, pra descrever o “estado normal” dos órgãos e os sistemas do corpo ao seguirem uma norma de funcionamento. Como um estado normal nunca foi definido, ele passou a ser o contrário de anormal. O problema é que a fronteira entre o normal e a loucura é imprecisa, como mostra de forma cômica a série “Os normais“, de 2001, cuja normalidade passa longe da vida dos personagens.
Maluco beleza
Em sociedades antigas, os diferentes transitavam com liberdade pelas ruas, como oráculos, profetas, sábios, artistas, cientistas e até como visionários, fazendo parte da vida cotidiana. Seus atos, às vezes insanos, não costumavam ser levados a sério, como podemos ver no ensaio “Elogio a loucura” (“Stultitiae Laus“, de 1511), onde Erasmo de Roterdão humoriza as práticas corruptas da Igreja Católica Romana através de sua ridicularização – que acabou influenciando a Reforma Protestante. No máximo, eles causavam riso e até garantiam emprego em castelos – onde os humoristas eram tratados como bobos da corte – a própria origem da loucura afirma esse conceito. Embora a palavra só exista no português e no espanhol, loucura parece vir do árabe lauqa, “tonto, bobo, tolo”, e se aproxima de estultícia, o atributo usado pra caracterizar comportamentos tolos na antiguidade, que vem do latim stultitia, “tolo, estúpido”.
Essa percepção começou a mudar, a partir do século XVII, graças a romances como “Dom Quixote” (“Don Quijote de la Mancha“, de 1605), de Miguel de Cervantes, e “Rei Lear” (“King Lear“, de 1606), de William Shakespeare, ambos apontando como seus comportamentos podiam exercer influência sobre a sociedade, então a loucura passou a ser vista como um risco e um mal a ser excluído. A palavra maluco expressa bem essa ideia, derivando do espanhol malo, “mau”, ou de mal “enfermidade”, cuja origem é o latim malus. Em “História da loucura” (“Histoire de la folie à l’âge classique“, de 1961), Michel Foucault examina a arqueologia da loucura ocidental até o momento em que muros foram erguidos pra separar os loucos do resto da humanidade, os condicionando em asilos.
Jogando dados com a perfeição
Segundo Georges Canguilhem, filósofo e médico, autor de “O normal e o patológico” (“Le Normal et le Pathologique“, de 1943), a diferenciação entre a loucura e a normalidade depende de opções filosóficas, ideológicas e pragmáticas. Pra Foucault, a loucura se caracteriza pela forma como a sociedade a vivencia. Pra distinguir os sãos dos malucos, as normas de conduta serviriam de regulação pra endireitar as pessoas e desencorajar infrações, assim, o anormal seria aquele que contrariasse a norma.
E se existe uma norma de comportamento, também deveria existir uma forma certa de “ser” humano, pelo menos foi o que pensou Adolphe Quetelet, em torno de 1835, quando usou o cálculo de estatística criado, em 1713, pelo matemático Jakob Bernoulli pra aplicá-lo aos humanos. Após reunir dados da população e calcular uma média, ele apresentou o conceito de “homem comum”, e tentou usá-lo como modelo pra guiar a sociedade pelas regras, através de um ideal de perfeição e beleza; porque se afastar dessas proporções traria deformidades e doenças, gerando monstruosidade. Devido às críticas recebidas, Quetelet argumentou que o padrão proposto era impossível de ser alcançado, servindo apenas como representação pra facilitar o entendimento do mundo pelo governo e de profissionais.
A farsa dos números
Após as bases da normalidade terem sido estabelecidas, Francis Galton – primo de Darwin – entra na equação, alterando a teoria estatística de forma significativa pro conceito atual, conforme descreveu Lennard J. Davis em “Enforcing Normalcy” (em livre pt-BR: “Impondo a normalidade”, de 1995). Desejando melhorar a raça humana, ele viu nas estatísticas a forma de fazer isso, conforme ideais que achava que todos deviam ter. Sendo “a primeira pessoa a desenvolver uma teoria estatística adequada do normal… também o primeiro a sugerir que fosse aplicado como prática de normalização social e biológica”, conforme destacam Peter Cryle e Elizabeth Stephens, autores de “Normality – A Critical Genealogy” (em livre pt-BR: “Normalidade – Uma genealogia crítica”, de 2017).
Como gostamos de ver nos números a objetividade de um ideal maior que leve a transcendência, durante o início do século XX, o conceito de normal alastrou pelo campo emergente da saúde pública e na indústria pra aumentar a produção. Mas talvez não tenha prejudicado tanto como na padronização de escolas, com suas fileiras de mesas e uma abordagem uniforme de aprendizagem que não respeita individualidades, baseada numa decoreba que apenas ensina a seguir ordens, como denuncia John Taylor Gatto em “Emburrecimento Programado” (“Dumbing Us Down“, de 1991).
Insônia na era da razão
Todo esse contexto, explica as razões de se utilizar tratamentos bizarros pra cura dos lunáticos, como contaminação por malária, abrir um buraco no crânio através da trepanação, e até a lobotomia, desenvolvida em 1935, pelo médico neurologista português António Egas Moniz, a qual ele dizia ser mais fácil que tratar dor de dente, cujos horrores e ineficácia podem ser vistos na minissérie Ratched, de 2020. Muitos dos problemas gerados se davam por uma medicina amadora, como aborda Lindsey Fitzharris em “Medicina dos Horrores” (“The Butchering Art“, de 2017).
Conforme aponta Foucault, a loucura atravessou um processo de desqualificação de sua potencialidade em dizer a verdade, dessa forma se opondo a razão. Nesse contexto, o não louco era o que mentia melhor a ponto de não ser descoberto, como mostra o remake live-action de “Alice no País das Maravilhas” (“Alice in Wonderland”, de 2010).
Anos “não tão” incríveis
As estatísticas podem até não terem descoberto o conceito de normal, mas o redefiniram como aquilo que ocorre com mais frequência, transformando a média em norma e o padrão a ser seguido. Logo, ser normal é estar na norma, ou seja, possuir os mesmos atributos e comportamentos da maioria. É estar na média de altura, peso, tipo corporal, sexualidade, fisicalidade, sociabilidade, pra poder se encaixar; se afastar disso significaria não ser um humano do jeito certo. Gerando punição e isolamento, que causam impactos psicológicos e sociais nos anormais e acabam por piorar sua situação – como falado aqui.
Mas nem só coisas boas estão presentes na maioria, como destacou Luiz Alberto Hetem, vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, em entrevista a Superinteressante, “cada tempo tem suas pressões e paixões, que influenciam o comportamento do indivíduo”. O romantismo – com seu mal do século – está aí pra provar que seguir os outros pode dar ruim; seu sentido de sublime era se largar ao autoabandono, agravando a tuberculose, o que levou a morrer de amor de forma literal. Seguir o padrão de comportamento da maioria é chamado normose, mas se prender a isso pode nos esvaziar de sentido – como vimos aqui – e provocar doenças, como a normopatia, cujo extremismo leva ao conformismo, a perda da capacidade imaginativa e a redução da criatividade, além de insensibilidade a dor alheia.
O delírio da normalidade
O cubo da padronização se deu com a eugenia, aplicada por Hitler ao tentar limpar o mundo dos “defeituosos” em favor da raça ariana, a qual considerava pura. Porém, a raça ariana não passa de um mito obscuro, desenvolvido e legitimado por Arthur de Gobineau, e sua preconceituosa teoria de demografia racial, em “An Essay on the Inequality of the Human Races” (“Essai sur l’inégalité des races humaines” | em livre pt-BR: “Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas”, publicado em seis volumes entre 1853-1855) – que pode ter recebido influência de Quetelet e Galton. Dividindo a humanidade em três raças principais: branco, preto e amarelo, ele considerou apenas a branca descendente de Adão. Segundo ele, aristocratas eram superiores aos plebeus porque possuíam traços genéticos mais arianos, devido a menos cruzamentos com raças inferiores – pensamento esse que regia a Grécia antiga, onde uma parte da sociedade não era considerada cidadã, logo, sem direitos políticos e a participação nas decisões da comunidade.
Em “The Aryan Myth” (“Le Mythe aryen” | em livre pt-BR: “O mito ariano”, de 1971), Léon Poliakov abordou a formação do mito que alegava a existência de uma raça superior as demais – como os judeus – e dotada de dons. Esse conceito de superioridade sempre foi usado como desculpa pra subjugar e escravizar, como faziam as nações com os povos conquistados, ou mesmo com os índios e negros – né, compadre Washington? – e como desculpa pra sustentar a supremacia racial que levou a segregação, de 1877 a 1964, graças a aplicação das leis Jim Crow, nos Estados Unidos, e o apartheid conduzido por uma minoria, de 1948 a 1994, na África do Sul. Conceito esse que não passa de um equívoco, sendo seu erro rejeitado por estudiosos modernos, conforme afirma Ellis Cashmore em “Dictionary of Race and Ethnic Relations” (em livre pt-BR: “Dicionário da raça e das relações étnicas”, de 1984). Nem é suportado por evidências antropológicas, históricas e arqueológicas, já que biologicamente há uma estreita semelhança genética, além de inter-relações complexas entre as raças. Inclusive o próprio conceito de raça não existe, como apontou uma matéria da National Geographic, de 2018, e que Paulo já ensinava entre os anos 48 a 62 [Colossenses 3.11, Gálatas 3.28].
A norma da loucura
O mito da normalidade é perigoso porque tenta reajustar a existência num caminho sem diversidade, eliminando a variação, pra todos seguirem um padrão, mas humanos, assim como os demais animais, são mutáveis. São nossas diferenças, sejam elas biológicas ou comportamentais, que permitiram a nossa espécie evoluir e a se adaptar a tantos desafios e os ambientes mais inusitados. É essa habilidade de variar em corpo e mente que nos permitiu chegar até aqui, porque diferir faz parte de nossa humanidade. Na real, somos todos anormais, e saber isso deixa as coisas menos confusas, como destacou Mark Twain: “quando lembramos sermos todos loucos, o mistério desaparece e a vida fica explicada”. A maioria é apenas boa em disfarçar; os que percebem isso mais sedo e usam esse entendimento pra persuadir são os que se destacam – não à toa a psicopatia seja comum em executivos do alto escalão.
Ser normal, nada mais é que estar no mesmo grau de loucura da geral, como constatou a antropóloga Ruth Benedict, na década de 1930, cada cultura estabelece modos de agir, pensar e sentir adequados. Quem se aproxima mais do padrão estabelecido é bem-visto, já quem foge desses limites, se comportando diferente é tido como anormal, louco, problemático, inadequado e baderneiro. Porque “a loucura só tem realidade e valor de doença no interior de uma cultura que a reconhece como tal”, reforçou Foucault em “Doença mental e psicologia” (“Maladie mentale et psychologie“, de 1954).
A pedra da loucura
Independentemente da expressão doido de pedra ter surgido pelo costume dos loucos jogarem pedras nas pessoas, porque na idade média creditavam a causa da loucura a pedras na cabeça, ou se é pelo termo fazer referência aos comprimidos. Loucura é insistir em agir como Procusto que forçava os hóspedes a dormir em sua cama; amputando os altos e esticando os baixos pra se adequarem às suas medidas – lenda essa também contada como ocorrida em Sodoma – demonstrando intolerância as diferenças, ao tentar impor um padrão de normalidade. Afinal, mudamos constantemente e isso também transforma o meio que acaba por influenciar e sofrer influências. A anormalidade é necessária, como disse Marcel Proust: “pra tornar a realidade suportável, todos temos de cultivar em nós certas pequenas loucuras”.
Já falava Heráclito, “a única constante é a mudança”, algo reforçado pela teoria da seleção natural de Darwin, onde os organismos mais bem adaptados – aqueles que mudam, não os mais fortes – têm maiores chances de sobrevivência. Por mais louco que Procusto pudesse parecer, até ele sabia ser necessária adaptação pra fazer seus hóspedes sofrerem, por isso tinha camas de tamanhos distintos; até Teseu o prender na cama e lhe cortar a cabeça e os pés. Pra Canguilhem, a loucura não é apenas a perturbação do estado normal, também pode ser algo que transforma o indivíduo e o faz diferente. Como reagimos de forma divergente ao mesmo estímulo, isso torna o limite de normalidade flexível, além disso, sua definição não se trata apenas da ausência de doença patológica, ou desequilíbrio mental.
Só os loucos sabem
Ao longo das décadas os desajustados receberam diferentes nomenclaturas, títulos e sinônimos, chamados de apaixonados, possuídos, baderneiros, iluminados e doentes mentais, por não se enquadrarem na maioria. Apesar de nos limitar e diferir, nossas deficiências e defeitos também são responsáveis por nosso caráter, a forma que encaramos a vida e como interagimos. Sendo responsáveis desde uma personalidade mais séria, até a mais carismática e engraçada, além de nos dotar de atributos que potencializam a genialidade – já dizia Aristóteles, “nunca existiu uma grande inteligência sem a faísca da loucura”. Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso, Isaac Newton, Thomas Edison e até Steve Jobs estiveram aqui pra provar, todos tinham dislexia – um distúrbio que causa déficit de atenção e pode prejudicar o processamento fonológico e visual – e foi isso que os fez especiais.
O fator de anormalidade também esteve presente na vida de John Nash, matemático ganhador do Nobel de economia, cujos ataques de esquizofrenia estão em “Uma mente brilhante” (“A Beautiful Mind”, de 2001); Van Gogh, que a abstinência alcoólica agravou sua psicose a ponto de cortar a própria orelha; Beethoven, o qual os problemas de saúde podem o ter ensurdecido, ainda assim criou composições arrebatadoras; Francisco de Goya, que as alucinações e dores de cabeça provocadas pela Síndrome de Susac causaram surdez; ou mesmo Robert Schumann, pra quem a genialidade não o salvou da “melancolia psicótica”. Ou mesmo entre grandes escritores, como Hans Christian Andersen, cujas histórias são conhecidas mundialmente, teve a bipolaridade agravada por seu sentimento de rejeição. Mesmo mal do qual sofria a rainha do crime, Agatha Christie, algo que piorou após a morte da mãe e cuja escrita ininterrupta a levou ao esgotamento; quem também sofria do transtorno bipolar era Sidney Sheldon, autor de inúmeros romances e séries de TV, pra quem as alterações de humor o levaram a tentar o suicídio aos 17.
Tá todo mundo louco
Mais que expressão filosófica, dizer que somos anormais é uma questão de estatística mais comum que se imagina. Diferentemente do dito por Nietzsche, que “nos indivíduos, a loucura é algo raro, mas em grupos, partidos, povos e épocas, é regra”, e até do esperado, transtornos mentais não acometem 1 a cada 4 pessoas, nem mesmo 1 a cada 2, mas 1 a cada 1,2. Assim, “a pior das loucuras é, sem dúvida, pretender ser sensato num mundo de doidos”, como lembrou Erasmo de Roterdão – louco mesmo era Moniz que insistia em seus procedimentos macabros, que só pioravam a condição dos doentes. Por ser a anormalidade uma experiência humana, a loucura é que une a todos; afinal, viver num mundo conturbado dispensa a necessidade de genes ruins e traumas infantis, como apontou o jornalista Sebastian Junger. Já dizia a expressão pop, baseada em “O Médico e o Monstro” (“Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde“, de 1886), de Robert Louis Stevenson, “de médico e de louco todo mundo tem um pouco”, algo que segundo Millôr Fernandes, “depende de onde você cutuca”. Assim, é preciso de um pouco de loucura pra “quebrar as regras e ser livre”, como ensina Nikos Kazantzakis, em “Vida e proezas de Aléxis Zorbás” (“Víos kai Politeía tou Aléxē Zorbá”, de 1946), que gerou o filme “Zorba, o grego” (“Zorba the Greek”, de 1964).
Quem define aquele que escapa ou não da anormalidade, são os que ainda não foram devidamente diagnosticados, como lembra Carlos Drummond de Andrade, e que nos tornamos “lúcidos na medida em que perdemos a riqueza da imaginação” – o que pode levar a manipulação pra gente suprimir nossa identidade, como aborda a série Marvel “Legion” (em livre pt-BR: “Legião”, de 2017), cujo tema abordei nesse vídeo. Por isso precisamos ser mais compreensivos com as diferenças do outro, algo que vem com o tempo e dedicação; mesmo estando esse viés introjetado em nós, ele precisa no mínimo de 21 dias pra ser alterado. Esforço esse que compensa porque mesmo com nossas diferenças, somos iguais no que é essencial pra vida, e o que é estranho de primeira vista pode se tornar um detalhe interessante pra gerar conexão e possíveis histórias – como abordado aqui.
A loucura da cruz
Apesar de sermos empurrados pra seguir um padrão quanto ao que vestir, falar e nos comportar pra conectar e ter pertencimento, dentro de padrões considerados normais. Há um ponto em que devemos escolher “ser como todo mundo pelo resto da vida ou transformar peculiaridades em virtude”, como lembrou Ursula K. Le Guin, tentar parecer normais nos faz gastar uma energia imensa, já alertava Albert Camus. Então, que a gente possa abraçar nossas diferenças, sem esquecer que o ponto que nos conecta é a loucura geral, o problema não estar em diferir, a estranheza está em absorver um comportamento de manada, por essa razão devem existir limites. Não é todo mundo expressar suas excentricidades, mas respeitar o outro; chocar não é ser diferente, mas obscenidade e escândalo [Mateus 18.7, Lucas 17.1].
Num mundo de loucos, a normalidade desaparece. Em meio a tanta libertinagem precisamos ser estranhos, palavra essa que vem do latim extraneus, “que é de fora, desconhecido, não familiar, estrangeiro”, de extra, “fora”; pra não sermos comuns e nem tomarmos uma forma deformada vendida como liberdade – como fala o poema “A ilusão que acreditei ser liberdade“. Só fazendo esses ajustes na mente, será possível provocar transformação [Romanos 12.2], brilhar em meio as trevas e barrar o alastramento da corrupção [Mateus 5.13-14]. Precisamos nos apegar a loucura da cruz, pela qual a sabedoria se desfaz e a inteligência é rejeitada, causando confusão, mas que se torna lucidez e poder ao que crê [1 Coríntios 1.18-25].
Artigo publicado originalmente no LinkedIn, também está disponível no Medium.
Fortalece a firma


Ao adquirir os livros indicados você ajuda na produção de mais artigos como esse que informam enquanto te distrai. Você pode ampliar seu conhecimento com as versões física dos livros: “Rápido e devagar” ou em inglês, “Elogio a loucura“, “História da loucura“, “O normal e o patológico” ou em inglês, “Dumbing Us Down” “An Essay on the Inequality of the Human Races” e “Dictionary of Race and Ethnic Relations“. Você também pode optar por entreter sua mente com “Dom Quixote” ou seu original hispânico, “Rei Lear” ou no idioma materno, “Medicina dos Horrores” ou em inglês, “O Médico e o Monstro” ou em inglês e “Vida e proezas de Aléxis Zorbás“.
Se você gosta muito de ler, o melhor é adquirir uma assinatura do Kindle Unlimited que possui milhares de livros. Agora se prefere lançamentos de filmes e séries, descontos nas compras com frete grátis, além de milhares de músicas e benefícios em jogos, opte por uma assinatura do Amazon Prime.
Aproveita pra reagir a esse artigo e deixar seu comentário sobre o quanto você curtiu. Ah! Compartilha também com aquele parça que você sabe que vai curtir a postagem. Antes de ir, salve esse artigo nos seus favoritos, assim você pode voltar depois e refletir um pouco mais.
Ósculos e amplexos,
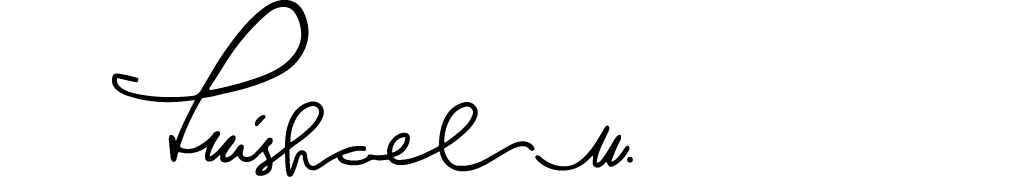
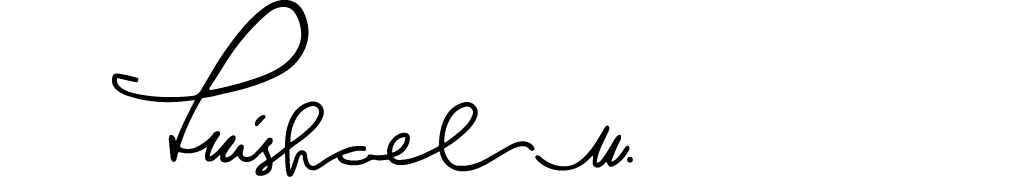
Autor de Interrompido – A curva no vale da sombra da morte, é um cara apaixonado total por música, se deixar não faz nada sem uma boa trilha sonora. Bota em suas histórias um pouco de seus amores e do que sua visão inversível o permite enxergar da vida.













